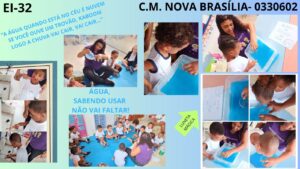Por Marcus Tavares
A ideia inicial era simples: fazer uma entrevista pingue-pongue com o professor e escritor Luiz Antonio Simas sobre o Dia do Folclore no Brasil, celebrado no último dia 22. Li sobre o assunto mais uma vez, li alguns textos do professor, preparei algumas perguntas e encaminhei. Com uma agenda lotada e entre uma aula aqui e outra ali, gentilmente, ele concedeu a entrevista via WhatsApp.
No entanto, as respostas do professor se transformaram em uma verdadeira aula sobre o conceito e o lugar do folclore em nosso país. Uma aula tão cheia de ritmo, imagem, paixão, reflexões e provocações. Interromper as falas do professor com perguntas seria quase um pecado com o leitor.
Conheça mais sobre a obra do professor, clique aqui
Por isso, abri mão do formato de pingue-pongue. Publicamos, abaixo, na íntegra, a fala do professor que mais parece um artigo vibrante sobre o lugar do folclore na nossa cultura. Uma grande aula. Leia e diga se não é verdade.
Folclore é cultura: por que precisamos repensar o termo? Luiz Antonio Simas

Por Luiz Antônio Simas
Professor e escritor
O termo folclore é cunhado, em 1846, na Inglaterra, e a rigor designaria o conjunto de saberes do povo. A grande questão é que quando o termo é cunhado, ele é de certa maneira pensando numa separação entre o que seria uma cultura popular e o que seria uma cultura, digamos, erudita. E a aplicação desse termo, muitas vezes, acabou sendo bastante pejorativa, porque partia da consideração de que essa cultura erudita era superior, já que a cultura popular seria, digamos, mais pitoresca, digna de registro, mas não considerada à altura, do ponto de vista da sofisticação das práticas culturais, de uma cultura, portanto, erudita. Nesse sentido, acho que é viável usarmos o termo folclore, mas a partir de um redimensionamento dos seus significados, a partir daquilo que muita gente gosta de chamar de ressignificação.
Gosto de dizer que é um termo em disputa, porque é interessante que a gente fale, evidentemente, em um conjunto de saberes vinculados ao povo, mas é importante que tenhamos muito cuidado para que não lidemos com isso do ponto de vista daquilo que chamo de ‘simpatia pitoresca’. Essa ‘simpatia pitoresca’, ainda que se aproxime dos elementos da cultura popular, é uma simpatia que opera numa dimensão que não rompe com o fundo de preconceito que está presente nisso.
Então, é importante que redimensionemos essas questões sem trabalhar com uma hierarquia de padrões culturais, como se algo fosse digno de registro, mas não fosse efetivamente profundo no sentido mesmo de construir percepções de mundo.
Feita essa ressalva importante, gosto de pensar o folclore, atualmente, como um conjunto de práticas das culturas populares, e que não se limita, evidentemente, àquela visão pejorativa de que é um conjunto de lendas. Não, a rigor, prefiro deslocar a percepção do folclore para o campo da cultura. Cultura compreendida como um conjunto de bens simbólicos que dá sentido às vidas de comunidades. A maneira como você come, bebe, veste, festeja, celebra nascimento, canta, lida com o seu corpo e enterra os seus mortos. Enfim esse é o campo da cultura que é o campo que acredito que pode redimensionar o uso da expressão folclore. E nesse sentido é absolutamente crucial que possamos, sim, conectar tudo isso com processos e práticas pedagógicas. Até porque educação não é sinônimo de escolaridade. Quando a gente pensa em escolaridade, estamos nos referindo à instituição escola. Uma instituição, inclusive, que muitas vezes é blindada pelas limitações curriculares. Por outro lado, o fenômeno educativo acontece em tudo quanto é lugar. Você se educa numa festa, num terreiro, numa igreja. Você se educa numa quadra de escola de samba, num estádio de futebol, conversando em torno de uma fogueira. O fenômeno educativo está na esquina, no botequim. Ele está acontecendo o tempo todo. E tudo isso faz parte, portanto, desse contexto arrojado das culturas do povo, que podemos englobar a partir da percepção do que é o folclore.
Neste contexto, o folclore, nesse entendimento e dimensão, pode ser levado e trabalhado pelas escolas com maior contundência. Acaba sendo um instrumento poderoso para combater, inclusive, preconceitos e intolerâncias. Para combater o racismo epistêmico, o racismo religioso. Tudo isso, evidentemente, pode ser combatido a partir de articulações que vinculem processos pedagógicos a elementos das culturas populares. Isso é absolutamente fundamental. Porém, isso só é viável a partir de uma discussão profunda a respeito, inclusive, de currículo. Ainda que tenhamos vivenciando grandes avanços no currículo das escolas brasileiras, continuamos, em certos aspectos, tendo currículos muito condicionados por percepções eurocentradas do mundo, que tem como corte de referência a razão ocidental. E isso não acontece só em áreas mais óbvias, como a História, a Geografia, que, aliás, estão tentando se redefinir. Isso acontece no estudo das Ciências, na Biologia. Não conheço, por exemplo, ninguém que use com mais contundência o conhecimento indígena e africano a respeito das folhas para falar numa aula de botânica. Por que que não se fala, por exemplo, numa aula de botânica, a respeito dos mitos poderosos de Ossaim, o orixá que conhece o poder curativo das folhas a partir de suas propriedades? Por que que isso não pode ser um estímulo para que o aluno conheça? Por que que não pode ser um estímulo para se combater o racismo religioso? E isso não opera numa negação de todo o cabedal de conhecimentos que a cultura ocidental produziu, de forma alguma. Não acredito em culturas que se anulem. Acredito em culturas que se integrem num diálogo que respeita, sobretudo, a pluralidade. Então esse é o campo em que o folclore opera.
Por fim, é importante destacar que o folclore pertence ao campo da tradição, mas é preciso entender que tradição não é uma coisa morta e estática. Tradição não é algo que está parado no tempo. A tradição é um elemento de conexão entre o passado e o presente. E esses elementos de conexão podem, evidentemente, sugerir outros futuros. Esse é um elemento fundamental.
Nesta perspectiva, não é possível situar o campo do folclore, das culturas do povo, como algo que ficou datado no tempo, que pertence a um ambiente rural. Não. Estamos falando de um Brasil que se urbanizou. E a urbanização não destrói mitos ou referências das culturas do povo, ela redefine esses mitos e referências. Então pensar a contemporaneidade a partir também desse manancial das culturas populares é crucial. Da mesma maneira que podemos entender um cortejo de maracatu, um reinado, uma congada ou um desfile de escola de samba a partir de uma certa perspectiva coletiva de expressão popular, é possível perceber isso também num baile, numa roda de rima, num desafio de repentistas do rap. Enfim: é um campo dinâmico. Não é parado no tempo. Esse dinamismo é crucial para que a gente entenda a tradição. Tradição, portanto, é aquilo que, ao beber na fonte do que foi, aponta para aquilo do que quer ser. Há uma linha de continuidade, evidente que com contradições, com complexidades, mas que dialoga com o atual, com o presente. Só é ancestral aquilo que faz sentido hoje, que continua fazendo sentido. E a cultura do povo é fundamentalmente uma cultura que dialoga com a ancestralidade.